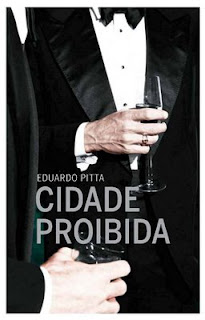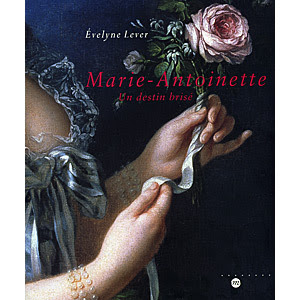“Sempre ali esteve, a música”, mas na “Rua de Portugal” a música exalta a tristeza, o momento, o vergel da adolescência ida de tudo.
“Sempre ali esteve, a música”, mas na “Rua de Portugal” a música exalta a tristeza, o momento, o vergel da adolescência ida de tudo.“Retratos”, “Rua de Portugal e Outros Lugares”, “O Vocábulo Tempo”, “A Norma da Desordem”, quatro títulos, ou quatro partes, de um mesmo livro que pode ser lido em quatro tempos, ou a quatro tempos, por quatro mãos.
Descemos a escada até à nossa habitual livraria de poesia, circulamos em torno da ampla bancada das novidades, compramos o livro de um ídolo, e vamos dali para o bar beber um café e dissecar os orgulhosos poemas.
Indo de página em página jogamos o jogo das sínteses e resumimos os poemas, encontrando-lhes o sentido nosso, e assim dizemos: ausente esvaído amante; esvaído esperma em miragem masturbada; na luminosa tarde da Toscânia; comunicando mentiras entretidas; a vida presa ao papel que nem a morte rasga; o desejo é sentido mágico; boca dada à leitura do poema; tem o nome solto na noite; meu amor de pernas abraçando; o calor traiçoeiro doutro Inverno esclarecido; aleijado só no tempo inútil de o amar; evocar a comunhão de corpos novos; vazia a casa e maré vaza; sombras aparentes prisioneiras da memória; poesia e casa; casa e século; moedas para um pajem infantil; voltar à livraria da poesia e ao café dos poetas; o desejo inominado sobre o esperma de limão; canção do touro e do mastro; o símbolo limão no horto concluso; canção do rouxinol e do banho; “canção dos dias grandes”, a razão dos frutos luminosos; tudo é corpo na vontade adolescente; tudo é sexo na imagem recolhida; a mobília e a família mortas; cinco vagos momentos de viagem; o decénio dos amantes mortos, o leito limpo do medo, a novena das bocas tapadas a algodão; “a morte das palavras”, “o nada das palavras”, “a pátria de palavras”, “o impuro murmúrio”, versos inúteis, “o insecto mártir”, “a roxa flor”, “um vento baixo”, “o caos cenografado”, “o que mudou”, “o rosto”, “o nada”, “uma casa [que] morreu”.
“Sempre ali esteve, a música”, mas na “Rua de Portugal” parece-nos mais dolente, espécie de partitura do envelhecimento, do abandono, da destruição, da doença, da saudade e da morte. Livro que é um requiem. Peça desabrida e estranha na obra do autor.
Ao fundo do bar amarelo da nossa habitual livraria de poesia, bebemos um café e dissecamos os orgulhosos poemas... Lá vai uma lágrima... Lembramos Fiama... “Um procurava a morte obstinado / outro a vida invisível que fugia.”
[Fonte: Imagens - Gastão Cruz. Fotografia no site do ICA. Google. Livro em "análise" - Gastão Cruz, Rua de Portugal. Lisboa, Assírio & Alvim, 2002]